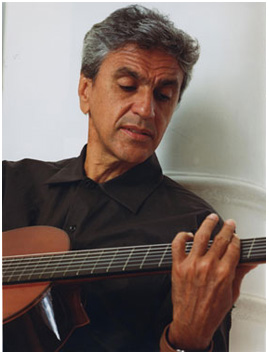Se você
tem uma idéia incrível,
é melhor fazer
uma canção;
está provado que
só é possível
filosofar em
alemão.
Caetano Veloso
Ao cantar a língua portuguesa em Língua,
Caetano conclui acerca das possibilidades expressivas do português,
que “é melhor fazer uma canção”. O português, portanto, só poderia corporificar
“idéias incríveis” na forma “simples” da canção. Concordando ironicamente
com a afirmação heideggeriana da superioridade da língua alemã frente às
línguas latinas, Caetano provoca não somente com a insinuação da menor complexidade
da música popular e, portanto, da sua superficialidade, mas também no que
diz respeito à incapacidade do português expressar conteúdos mais profundos,
como o pensamento filosófico, por exemplo.
Mas a idéia da incapacidade expressiva do português já vinha derrubada
desde o início da mesma canção, quando Caetano gaba-se de poder ser e estar,
diferenciação raríssima nas línguas modernas (inexistente no alemão, inclusive)
e da vivacidade da língua camaleônica:
Gosto de sentir a minha língua roçar/A língua de Luís de
Camões/ Gosto de ser e de estar/ E quero me dedicar/ A criar confusões de
prosódias/ E uma profusão de paródias/ Que encurtem dores E furtem cores
como camaleões
Porém, a melhor resposta à Heidegger está em outra canção de Caetano:
A terceira margem do rio
[2]
. Mais do que
uma releitura explícita do conto homônimo de Guimarães Rosa,
a letra poética
é uma interpretação deste. Na leitura feita por Caetano se percebem outras leituras
possíveis deste conto, dando à sua
canção mais
do que o status
de dependência de uma releitura –
ela ultrapassa estes limites,
tornando-se única, e, com isso, serve
aqui como
ponto de partida
hermenêutico.
A proposta deste artigo é, portanto, traçar uma linha que evidencie
as relações entre a literatura, a música e a filosofia através da leitura
desta canção. A análise deste ensaio
passou, então, a buscar
um agrupamento
dos elementos interpretativos
numa seqüência em
que se percebesse a correspondência
não só
da letra poética
de Caetano Veloso com o conto de João Guimarães Rosa,
mas também
deste e, portanto, daquela, com a hermenêutica
heideggeriana, mais especificamente
com relação à
discussão sobre a linguagem. É interessante observar
que esta correspondência
forma uma cadeia
de interpretações: o conto de Rosa traz a possibilidade de várias leituras; dentre elas está
a da intertextualidade com o ensaio de Heidegger A palavra. A letra poética de Caetano Veloso abarca, condensadamente, estas
possíveis leituras
ou – caetanamente – não.
Em uma primeira comparação
entre os mencionados conto
e letra poética, já se pode observar
as referências claras
ao escritor mineiro
nos versos:
Água da palavra/ Água calada,
pura/ Água da palavra/ Água de rosa dura/
Proa da palavra; e um pouco depois: Entre as escuras duas/ Margens da palavra/ Clareira,
luz madura/ Rosa da palavra. Além de citações
explícitas ao autor, estes trechos
dizem sobre ele e seu
processo de escritura:
a “água da palavra”, a palavra em seu aspecto volúvel e volátil, ampliada,
desta forma, em sua significação, é também a água da “rosa
dura”, do que é singelo, por ser rosa, mas também sólido, impermeável, dificultoso,
nas várias acepções de duro. A “rosa da palavra”, tomada sob a metáfora conhecida
do conhecimento, a luz, se caracteriza pela sabedoria madura, da experiência
vivida e da experiência da escrita, pois se encontra entre as duas margens
da palavra – entre o significante e o significado, ponto da significação.
Estes termos, portanto, oferecem um
aspecto substantivo – e substancial –, fomentam uma concreção à palavra,
lhe soam como
plasticidade, ou seja, status fenomênico dos atributivos rosianos adentrando
a canção poética.
Há também grande correspondência
vocabular/lexical entre a letra e o conto, o que
enfatiza ainda mais
a referência a Rosa:
Caetano Veloso traz para a sua
A terceira margem
do rio vocábulos comuns à poética
rosiana (e não apenas
no tocante a este
conto), como
por exemplo,
as palavras vau
(o liso do rio,
onde se pode atravessar),
o próprio rio,
elemento enigmático na obra
de Rosa, proa,
clareira, canoa
entre outras, conseguindo assim um mesmo efeito literário.
Observando o terceiro verso
da canção, nota-se que
a partir do prefixo
tris, usado em Rosa
como advérbio
significando o número três, Caetano Veloso constrói a palavra: triztriz. Esta
palavra pode significar: repetição
enfática do número três,
muito importante
e constante tanto
no conto aqui
analisado, quanto na obra de Guimarães Rosa como um todo; “quase nada, pequena
diferença, átimo”, o que nos remete à outro texto de Rosa, Tutaméia
(mesmo que tuta-e-meia) ou ainda pode ter o sentido do adjetivo triste; este último nos
conduzirá a uma observação acerca
do conto de Rosa.
Um dos contos
mais enigmáticos de Guimarães Rosa,
A terceira
margem do rio possui um jogo de palavras e uma
estruturação que velam e revelam
leituras diferentes
do mesmo conto.
Este jogo
textual e estas diferentes
leituras são
percebidos por Caetano Veloso e re(des)velados
em sua
canção. O músico capta estes elementos
e os condensa em texto
poético.
Optamos aqui por destacar três leituras, consideradas três
camadas do texto,
uma reiteração do número três, anunciado desde o título do texto. Esta divisão em camadas pode ser desenvolvida a partir da noção de palimpsesto;
tomado em seu
sentido geral
(texto sob
textos), bem como
a partir da técnica
da intertextualidade discutida por
Genette e Kristeva. A apresentação do texto de Caetano Veloso revela esta estrutura e funciona
também como um palimpsesto
do conto rosiano, na medida em que se pode tomar o conto enquanto
estória três vezes contada e três
vezes interpretada.
Yves Reuter distingue três níveis de análise
das narrativas: 1) nível da diegese, em que se analisam os elementos constitutivos
da narrativa; 2) nível da narração, as escolhas técnicas que organizam a produção da
diegese; 3) nível da produção do texto, as escolhas
lexicais, sintáticas, retóricas, estilísticas. A análise aqui proposta se aproxima
bastante dessa divisão; se seguirmos esta linha de exame do texto teremos
três diferentes leituras, ao menos.
Na camada mais superficial
do palimpsesto, ou seja, no nível da diegese, lê-se a história de um pai, “silencioso e sério”,
que manda
“fazer para si uma canoa” e, sem nenhum motivo aparente,
resolve partir para
o rio. Esta camada gera uma interpretação em
que a partida
misteriosa tenha relação com a sanidade
mental do pai. Este teria enlouquecido e, portanto,
se retirado da sociedade, se colocando no meio
do rio: nem
de um lado,
nem do outro.
Ainda que estranhe esta ação, realmente sem sentido, o leitor confia na
história contada pelo narrador. São comuns leituras com uma vertente
misteriosa, de algo místico ou relacionado
a assuntos etéreos.
Quando se examinam as condições de construção desta estória, e se
pensa quem é este personagem narrador que conta a história do pai, ou ainda,
depois de raspada a primeira
camada do palimpsesto,
percebe-se que o leitor é guiado
pelo narrador do texto,
que nos
apresenta o seu ponto
de vista da história. Em um primeiro
momento, podemos até nos deixar levar pelo seu discurso, mas depois de analisar
este personagem percebe-se que nos deixamos guiar até demais. Como se trata
de um narrador homodiegético, somos enganados por sua focalização interna.
Uma frase bem conhecida de Guimarães Rosa, “As pessoas
não morrem, ficam encantadas”, pode
desviar nosso olhar do foco imposto pelo narrador. Muito atordoado e impressionado
com a morte
do pai, o jovem
narrador enlouquece, metaforizando a morte do
pai com a partida para o rio. A experiência traumática
da morte levou-o a mudar
a “realidade” e, insanamente,
conta o pai
que constrói uma canoa e vai
para o rio. Esta canoa, que o pai encomendou, “de pau
de vinhático, pequena, mal com a tabuinha
da popa, como
para caber justo o remador”,
é nada mais
que uma metonímia
para o caixão
do pai – objeto
de madeira, feito
para durar muitos anos, nas
medidas exatas de quem o usará.
Intercalando os dois textos,
observa-se o seguinte trecho
da canção de Caetano Veloso: “Oco de pau que diz: /Eu sou
madeira, beira
/Boa, dá vau, triztriz /Risca certeira”.
O próprio oco de pau, a canoa, diz e não diz – desvela
e vela – que
é madeira boa – o pau
de vinhático é conhecido, inclusive
por Rosa,
por suas
propriedades: faz parte
do conjunto de madeiras
de boa qualidade e que
não afundam na água
– nos remetendo à ambigüidade
das palavras do narrador: pode-se
realmente crer na partida para o rio, dada a escolha minuciosa
da madeira; Veloso explicita na continuação do verso:
esta madeira é triste
(tristriz), como caixão,
e ao mesmo tempo
“dá vau”, o liso
do rio, nos
proporciona a travessia da terceira margem.
Ainda, triztriz pode remeter-se à
expressão ‘por
um triz’, como se a canoa estivesse
tangente ao rio – símbolo da vida
e do tempo – portanto,
o pai estaria em
um ponto
suspenso: o ‘tangente tangível’.
No jogo de analogias
e assonâncias “madeira,
beira” temos a representação
da margem. Caetano Veloso nos conscientiza da ambigüidade
do discurso do narrador: a “risca certeira”,
que se refere ao tamanho
exato do caixão
ou da canoa,
de acordo com
o narrador, ou a palavra
exata, que
vela e desvela
os sentidos do texto.
Ou ainda
a vida, a figura que
se faz da canoa no rio.
No conto podemos perceber constantemente elementos
que evidenciam esta segunda
leitura. Tais
elementos, na primeira
camada, passam despercebidos,
dado o conjunto
do texto – as frases
se revelam e se escondem ao mesmo
tempo. No parágrafo quarto, o narrador nos
diz claramente “ele
não tinha
ido a nenhuma parte”;
porém, esta frase
“esconde-se” nas outras do parágrafo, fazendo
com que o leitor a leia, mas
não a confira a devida
importância.
A própria reação
da mãe e dos parentes
não parece suspeita
em um
primeiro momento
– “Na nossa casa,
a palavra doido
não se falava, nunca
mais se falou, os anos
todos, não
se condenava ninguém de doido”. Pode-se até pensar que a palavra fosse proibida
por conta do pai; mas a real loucura era dele, por isso a proibição. Ainda no quarto parágrafo, o antepenúltimo,
tem-se a construção “Só
fiz, que fui lá”.
Lida da forma
como aparece aqui,
esta frase diz que
o personagem tanto
pensou, tanto fez que
acabou indo lá. No entanto,
numa leitura oral
em que
se omita a vírgula – “Só fiz que fui
lá”, lê-se que
o narrador apenas fingiu (“fez”)
que foi lá, evidenciando
o seu ponto
de vista metafórico.
Na seqüência, o próprio narrador
se assusta ao ver o pai,
que lhe
pareceu “vir de além”.
O motivo pode ser
a emoção de depois
de tantos anos
receber, pela primeira
vez, um sinal
do pai ou
pelo súbito momento de lucidez,
em que
reconhece a sua morte.
Enfim, as evidências
são tantas que
se poderia ler
todo o conto
sob este
ponto de vista.
Partindo para uma camada
ainda mais profunda de leitura,
temos o conto de Rosa
como uma leitura
da ontologia de Heidegger, sendo
a canção de Caetano Veloso uma
leitura das leituras da leitura.
Heidegger ensaia, Rosa
proseia e Caetano Veloso canta a
problemática do signo,
o mistério da PALAVRA.
O conto de Rosa
recria e reinventa o mistério da palavra, problematizado por
Heidegger. Terceira camada,
esta leitura é a própria
indagação da linguagem
e, portanto, do fazer-escrever literatura.
No ensaio “A palavra”, Heidegger analisa um
poema de Stefan George e faz dele ponto
de partida para
a sua reflexão
sobre a palavra,
a literatura e o poeta.
Lembrando-se do significado da palavra para os gregos, o verso
final de George o incomoda: “Nenhuma
coisa que seja onde a palavra
faltar”. O poeta estaria buscando
o estado grego
da palavra: ela
presentificava o dito, e não, como hoje, quando
apenas representa. O enigma do poeta, então, é o que faz essa palavra
presentificar.
Presentificar a coisa dita
significa dar ser
a ela; a palavra
tem o poder de dar
vida às coisas.
Daí a angústia do poeta,
que já não mais quer dizer a palavra que representa,
porém a palavra
que é, ou
melhor, que
proporciona o ser. No entanto,
já não
se pode mais chegar
a esta palavra: já
não se sabe seu
enigma. O poeta, então, está num
constante dizer do indizível – a busca
incessante pelo
mistério da palavra.
Esta tentativa de decifrar o enigma da palavra
não se basta
apenas como
algo frustrado: o próprio
ato de recusa da palavra
representação, do simples
dizer, e o ato
de caminhar ao encontro
deste mistério é um
dizer. Heidegger diz: “Fazer
uma travessia, atravessar
na experiência, significa aprender”
.
Guimarães Rosa se deixa
prender pelo enigma da palavra
e em seu
conto, na terceira
camada da leitura,
relê a ontologia da palavra
de Heidegger em forma
de Literatura: metalinguagem,
terceira leitura.
Caetano Veloso percebe o meta-conto de Guimarães e constrói a sua letra poética.
A palavra não mais dita e hoje calada, que Heidegger menciona e discute em
seu ensaio,
aparece no conto de Guimarães Rosa como a figura do rio, “por aí se estendendo
grande, fundo,
calado que
sempre”. Isto
nos remete a palavra
verdade em
grego: alétheia. A negação
de lethes, o rio do esquecimento
– verdade, para os
gregos, significava desocultamento, desesquecimento,
desvelamento.
No trecho do conto “sou
o que não
foi, o que vai ficar
calado”, temos a idéia
heideggeriana – retomando de Parmênides de Eléia: “aquilo
que é calado
é o não-ser” – de existência ligada à palavra.
Na ambigüidade criada
pela forma
verbal foi, que
pode ser tanto
o passado do verbo
ir, que
seria a forma lida
na primeira camada
da leitura (o filho
não foi ao encontro
do pai), quanto
do verbo ser,
onde se poderia
ler que
ele não existiu,
visto que
não disse – a palavra
que dá ser
à coisa.
Três camadas de
leituras – três
margens do rio
– três margens
da palavra. A linguagem
é a casa do ser
e o ser se transforma em
rio-linguagem – “e, eu, rio
abaixo, rio
a fora, rio
a dentro – o rio”. A travessia para a terceira margem
é a busca do poeta
pela palavra
exata, certa,
a PALAVRA.
A “risca certeira” de Rosa
é captada por Caetano Veloso, que
mescla as leituras
de seu conto
e a ontologia de Heidegger em sua letra poética.
“Meio a meio
o rio ri”, em
sua terceira
parte (a do meio)
quase imperceptível
ao leitor desatento.
O rio que
volta ciclicamente, onde
tudo é mutável e está em movimento (Heráclito)
em “o rio
ri”, traduzindo a essência do próprio rio ou
“o rio riu, ri” que
dialoga com o “o rio-rio-rio, o rio” rosiano.
O pai, que permanece
sempre na terceira
margem do rio-linguagem, se torna o próprio rio – ambos com a mesma característica – silencioso
e sério. Este
pai que
“não diz, diz” é o próprio
poeta, que
ao renunciar a palavra,
ao se negar dizer,
diz. O silêncio é uma forma
de dizer.
A terceira margem
é a busca, a palavra
exata. De acordo
com Heidegger, “o poeta
deve em suas
travessias chegar
ao lugar em
que sua
reivindicação encontra
a satisfação procurada. Isto
acontece à margem de sua terra.” No entanto, isto
corresponde ao poeta cuja
preocupação não
reside na palavra, mas
apenas no dizer
algo, visto
que, ainda
citando Heidegger “a margem margeia,
isto é, contém, limita e delimita a morada segura
do poeta”. O poeta
que renega o dizer e vive
sempre na tentativa de solucionar o enigma
da palavra – e é isto
o que importa, mais
do que a própria
solução – não
se prende às estas margens que o podam. A terceira
margem destrói esta noção
delimitante das margens, visto que se encontra no meio
– nunca se pode fechar
ou delimitar
este ponto do rio – da linguagem.
No anagrama de Caetano Veloso – terceira
/ certeira – tem-se a risca terceira,
a terceira margem,
o indizível, que
é, portanto certeira
– não se pode deixar
escapar nada,
cada palavra
como fundamental.
O texto se constrói enquanto
função poética,
não há preocupação
externa – o código
volta-se sobre si
mesmo.
A seqüência “proa
da palavra / duro
silêncio, nosso
pai / margem
da palavra / entre
as escuras duas / margens da palavra / clareira,
luz madura”
demonstra o caminho das três leituras
percorridas pelo leitor:
a proa da palavra,
parte inicial,
primeira leitura,
a margem da palavra,
segunda camada
do palimpsesto e entre
estas duas escuras leituras
percebem-se as margens da palavra, a terceira
leitura, que contém todas elas – é clareira,
conhecimento que
se adquire na travessia, o Ereignis.
Nesta “casa da palavra”,
em referência
a Heidegger – “a casa do ser
é a linguagem” –, mora
o silêncio, que
nada mais
é do que uma forma
de dizer – o silêncio
diz. O ser é em
silêncio e em
palavra – ambos
o dizem e o dão ser.
A verdade do texto nunca se dá de fato,
pois tudo
o que é desvelado no texto
vela uma outra
verdade. A asa
da palavra é a que
esconde e mostra ao mesmo
tempo o corpo
do pássaro, do texto,
assim como
o leque, em
Mallarmé: a letra S é margeada pelos dois As – num anagrama que representa
o rio e cita Pedro Kilkerry. Esta asa da palavra,
agora parada,
nos permite a visão
de um dos lados
– desocultamento, desesquecimento, desvelamento:
“O que ninguém
jamais olvida,
ouvi, ouvi, ouvi”.
A brasa da palavra,
o magma, se tem na hora
clara, na máxima
lucidez, na sabedoria.
A hora da palavra é “quando
não se diz nada”
– o que já
um dizer,
como vimos – fora
da palavra – esta palavra
a PALAVRA, a que
dá ser as coisas.
“Quando mais
dentro” do texto,
quando mais
fundo em suas camadas
da leitura, mais
“afloram” suas possibilidades.
Em cada verso,
percebe-se a leitura de Caetano Veloso
e sua releitura. As palavras
se imbricam formando um texto que se põe
em diálogo
com outros:
se constrói a partir do des-esquecimento do texto e do encantamento
da narração melodiada, ou seja, o conto
re-funda plasticamente o ser-de-palavra e a canção
torna-se rito da presença
da literatura como
sistema sígnico das possibilidades
de representação do ser heideggeriano
(Dasein).
Os textos, portanto, mantêm
uma relação direta
de interpretação em
que o palimpsesto
possa se fazer presença.
A idéia de Caetano Veloso seria uma
remontagem – à la Pierre Menard – do conto rosiano,
que por
sua vez
não precisa
da linguagem fenomênica de Heidegger
para dizer, mais
alto, a PALAVRA.
Contrariando a famosa frase de Heidegger, que
“só é possível
filosofar em
alemão”, temos um
conto que
não só
é uma releitura de sua filosofia,
mas outras várias possibilidades – não
se prende na simples releitura –
e temos também uma canção
resposta a tal
frase impositiva – não
filosofamos, cantamos e desocultamos o mistério
da palavra.
Bibliografia
MARTINS, Nilce
Sant’Anna. O léxico de Guimarães
Rosa. São Paulo: Edusp, 2001.
REUTER, Yves.
A análise da Narrativa:
o texto, a ficção
e a narração. Trad. Mario Pontes.Rio de Janeiro: Difel, 2002.
ROSA, João
Guimarães Rosa. Primeiras Estórias.