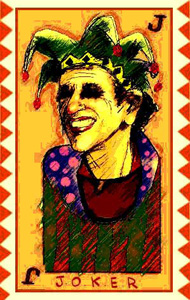Este artigo possui como objetivo a análise da produção musical de Caetano
Veloso. Seu intento é demonstrar como o músico está preocupado com as relações
entre a historiografia e a música brasileira, encontrando no pastiche sua
figura retórica por excelência. Neste percurso, o artigo discute também
as noções de nação, identidade, mídia e mercado no conjunto das canções
do compositor, defendendo que as mesmas almejam o hibridismo, a fragmentação,
a multiculturalidade, a multiidentidade, a multitemporalidade e a visualidade.
Em composições articuladas com outras modalidades estéticas
(artes plásticas, cinema e teatro), ao final da década de sessenta e durante
as décadas de setenta e oitenta, a carnavalização e a multidentidade cultural
parecem ter sido as maiores balizas de sua música, seus gritos, segundo
o próprio compositor, contra preconceitos de cunho nacionalista e melodramas
contidos em diversas produções da MPB.
A música proposta por Caetano está caracterizada pela
contemporaneidade e conjuga a “emergência de novos traços formais da vida
cultural, que correspondem ao surgimento de um novo tipo de vida social
e de uma nova ordem econômica” [1]. Assim, leveza, rapidez, exatidão, multiplicidade
e visualidade: as conhecidas propostas de Ítalo Calvino, parecem ser peças
essenciais ao discurso do músico brasileiro que faz de sua cantiga uma construção
na qual, contra especialização da ciência e as visões de foco unilateral,
sugere, em linguagem concisa e precisa, uma “visão pluralística e multifacetada
do mundo” [2].
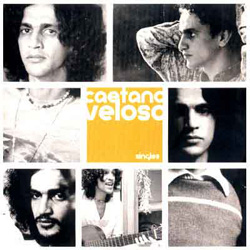 |
Singles (2002) Caetano Veloso -
Universal Music |
Mas, se Caetano Veloso
traz à baila uma nova forma de compor, isto não significa que negue o passado
da música brasileira. Opostamente, ele exprime lembranças dos tempos heróicos
da mesma, principalmente da bossa-nova, por quem nutre uma simpatia, dada
ora pelo desalinho desta em relação às práticas das classes sociais dominantes,
ora por, em partes, concordar com a postura bossanovista de repúdio ao saudosismo.
É o que se revela na composição Saudosismo, 1969: “Mas chega de saudade/
a realidade é que/ aprendemos com João/ pra sempre/ a ser desafinados”.
A citada canção, simultaneamente, saúda a música manifesto da bossa-nova:
Chega de saudade, de Tom Jobim, e confirma a repulsa ao cantarolar
nostálgico, cuja temática é o mundo de outrora.
Sobre a relação de Veloso
com a bossa-nova, Augusto de Campos pontua:
Caetano Veloso mostra
que é possível fazer música popular, e inclusive de protesto e de Nordeste
quando preciso, sem renunciar à “linha evolutiva” impressa à nossa música
popular pelo histórico e irreversível movimento da bossa-nova. [3]
Sobre a questão da intertextualidade,
em produções contemporâneas, Fredric Jameson destaca que a paródia mantém
uma relação negativa com seu texto fonte, enquanto o pastiche realiza “uma
retomada lúdica do texto passado” [4]. Sabendo destas conceituações e observando
Veloso, podemos perceber que, mesmo desenvolvendo os dois tipos de construção,
a maior recorrência do compositor é ao pastiche, pois ao invés de negar
os ritmos e temas da cultura brasileira ou, mesmo, latino-americana, ele
os incorpora, mesclando elementos que abalam as estruturas do “bom gosto”.
Por conseguinte, é de se esperar o surgimento
de Soy loco por ti, América e Recuerdos de Ypacaraí. Elas são produções, aos moldes de pastiche,
que trazem à tona dois momentos diferentes da música latina. A primeira,
de 1968, aludindo à união da América Latina contra o imperialismo norte-americano,
lembra as músicas cubanas de louvor a Che Guevara e a segunda, de 1970,
recupera a simplicidade da música romântica, no caso, paraguaia. Ambas as
recuperações, apesar de seus toques lúdicos, não poderiam ser realizadas
pela bossa-nova, afinal não rechaçam o passado musical que, direta ou indiretamente,
as compõem.
Acertado com seu tempo: o tempo regido pela lei do mercado, Caetano Veloso,
pelas músicas de três décadas: sessenta, setenta e oitenta, mostra-se, principalmente
nos dois últimos tempos, cada vez mais canibalista, voltando-se para diversos
estilos musicais, para o “sistema” cultural de massa, para o cinema e para
referências a vários tipos de arte. Participando de programas televisivos,
nos quais comumente é elogiado, Veloso parece ser compositor consciente
de que suas construções musicais são elementos inseridos na cultura de massa
e, por tal motivo, tenta fazer soar uma crítica sem radicalismos, a partir
do cerne do veículo midiático que o recebe, talvez como quem sonha, tal
como revela-se
Destarte, novamente tendo por recurso o pastiche, Muito romântico, de 1978, apresenta, em convívio com
o estilo mais intelectual de Veloso, uma imitação do estilo e dos arranjos
doces e ingênuos das cantigas de Roberto Carlos, estas muito propagadas
pelo programa televisivo Jovem guarda.
Versos como: “com todo o mundo podendo brilhar no cântico” ou “nenhuma força
virá me fazer calar”, lembram o ídolo da jovem guarda, mas frases do tipo:
“Sou o que soa eu não douro a pílula” ou “tudo o que eu quero é um acorde
perfeito maior”, bem como o modo coloquial e a preocupação de Caetano com
o equilíbrio entre letra e forma se fazem presentes. Também nesta conjuntura,
a já mencionada Sampa demonstra, já por seu título, o tratamento
afetuoso a ser dedicado à cidade e, de acordo com Romildo Sant’anna [5],
trabalha sobre o conjunto de notas de Ronda
(do compositor Paulo Vanzolini), porém dando-lhe uma letra reveladora das
mazelas citadinas, as quais contrastam com a agitada vida cultural paulistana
que vai da poesia concreta, do Grupo Oficina, do Teatro de Arena até Rita
Lee.
Há de se ressaltar que, ao iniciar sua carreira, na década de sessenta,
Veloso encontra o mercado nacional de bens simbólicos em vias de consolidação
e a música popular brasileira começa a manter um mercado considerável, legado
pelo rádio e seus astros. Assim, apesar da música popular brasileira ter
conseguido sua eficácia financeira e tecnológica nas décadas de setenta
e oitenta, principalmente com o fortalecimento da indústria cultural televisiva,
com o mercado editorial e com a publicidade, ainda em sessenta, como textua
Renato Ortiz, “o advento de uma sociedade moderna reestrutura a relação
entre a esfera de bens restritos e a de bens ampliados, a lógica comercial
sendo agora dominante”. [6].
Talvez seja este o impulso
responsável por levar Caetano Veloso a aceitar como indissolúvel a influência
do mercado. Todavia, é interessante salientar, através de discussões do
próprio Renato Ortiz, que a música popular destas décadas, embora com um
mercado crescente, ainda sofria com a incipiência industrial da cultura
de massa. Engendrada neste contexto, até meados da década de setenta, a
música popular não alcançava grande parcela da população, ganhando, por
vezes, status de um produto cultural de elite e não propriamente de massa.
Toda esta situação pode explicar a exigência de Veloso por uma qualidade
estética, entretanto, principalmente, ressalta o problema em se sobrepor
compartimentações severas entre as esferas culturais, coerentes, por exemplo,
para a França, em uma sociedade como a brasileira, cujos processos de formação
burguesa e capitalista foram distintos aos dos países europeus. Para Ortiz,
o problema já se põe nas décadas de quarenta e cinqüenta:
É necessário mostrar
que a interpenetração da esfera de bens eruditos e a dos bens de massa configura
uma realidade particular que reorienta a relação entre as artes e a cultura
popular de massa. Esse fenômeno pode ser observado com clareza quando nos
debruçamos nos anos 40 e 50, momento em que se constitui uma sociedade moderna
incipiente e que atividades vinculadas à cultura popular de massa são marcadas
por uma aura que em princípio deveria pertencer à esfera erudita da cultura.
[7].
O que se depreende, então,
é: a música de Veloso, apesar de produto da cultura de massa, nasce sob
a aura da cultura erudita e representa com esmero a interpenetração entre
a produção cultural e a produção de mercadorias. Debatendo a produção contemporânea,
Jameson afirma ser tal interpenetração “uma característica fundamental de
todos os pós-modernismos, a saber, o apagamento da antiga (característica
do alto modernismo) fronteira
entre a alta cultura e a assim chamada cultura de massa ou comercial” [8].
A cultura erudita e a cultura popular marcam presença nas composições de
Veloso, as quais, por sua vez, trafegam pelas vias da cultura de massa. Trilhando este itinerário, Caetano não nega
as tensões nacional-popular/ mercado-consumo e, ao postar, no mesmo patamar,
a questão estética, a questão mercadológica e a herança cultural, realiza
um processo de dessacralização.
Por este motivo, as canções
de Caetano Veloso, dentre outros traços, sugerem uma redescoberta do Brasil.
Escolhendo imagens, momentos e idéias, o músico remodela, ora em anuência,
como em Tropicália, de 1968: “Viva
Iracema/ ma, ma”, ora em desacordo com a tradição, como em Podres poderes, de 1984, as concepções em torno de nosso país e/ou
em torno das minorias, neste caso, tomando formas próximas às de um manifesto:
“Será que nunca faremos senão confirmar/ A incompetência da América Católica/
Que sempre precisará de ridículos tiranos?”.
Por estes trilhos, em Beleza pura, de
1979, o compositor iguala homens e mulheres fazendo referências de elogio
idêntico tanto à “moça preta do Curuzu” como ao “moço lindo do Badauê”;
em Língua, produzida em 1980, entoa a similaridade
quando exige a frátria ao invés da tutela da pátria ou da mátria: “A língua
é minha pátria/ E eu não tenho pátria, tenho mátria/ Eu quero frátria”;
e, em Podres poderes, se mostra identificado com “índios e padres
e bichas, negros e mulheres” que “fazem o carnaval”, servindo-lhe de inspiração
ao desejo de estar próximo “daqueles que velam pela alegria do mundo”.
Sem cunhar uma imagem unificada e articulada de nação, as produções de Caetano
Veloso destoam dos objetivos intelectuais perseguidos desde Pero Vaz de
Caminha até os literatos de trinta. Deles,
passando pelos relatos de viajantes, pelos românticos, por adeptos, tal
qual Silvio Romero, do cientificismo e pelos modernistas sempre foi possível
perceber o afã pelo desvendar, pelo recriar do Brasil, fator não perceptível
Destarte, harmonicamente
ao postulado por Stuart Hall, na música velosiana, o conceito de identidade-nação,
longe de se demonstrar consolidado e homogêneo, passa por abalos decorrentes
do capitalismo moderno. Na sociedade brasileira, de meados do século XX,
a idéia de integração nacional dantes “também muitas vezes simbolicamente
baseada na idéia de um povo ou folk
puro, original” [9] é enfraquecida (ou, como querem alguns teóricos, modificada),
paulatinamente outorgando espaço à defesa dos “direitos legais e de cidadania”
[10] que ultrapassam fronteiras e garantem ecos nos mercados nacional e
internacional. A identidade brasileira, em sua
multidentidade, é vista como composta de identidades que se desenvolvem
na mesma medida em que se transformam, não havendo a possibilidade de cristalização
ou de unidade.
Agora olhando sob novo
prisma, é indispensável pensar que, talvez, a opção por um mural de concepções
do ser brasileiro e a escolha da exposição de problemas nacionais ou mundiais
sejam preferências que possam advir do próprio abatimento recaído, nas últimas décadas, sobre os discursos e/ou
teorias, agora tidos como marcados por “limitações e pontos cegos” [11].
O certo é que “pluralidade”
emerge como a palavra regente do discurso de Veloso. A despeito de sua linguagem
musical mais sofisticada e de seus recursos intertextuais com a música,
com a literatura, com outras artes ou com discursos intelectuais ou sócio-políticos,
o músico é capaz de cativar o público sem demandar nenhum exercício de exegese
para ouvi-lo. Obviamente, escutar suas composições sem distinguir e pensar
sobre suas incursões de forma e conteúdo pode ser “perder” muito, mas nele,
aplicando as palavras de Eco sobre a contemporaneidade, “a execrada cultura
de massa de maneira alguma tomou o lugar de uma fantasmática cultura superior”
[12] ou vice-versa.
Nenhum tipo de produção
(massiva, popular ou erudita) é julgado em patamar mais ou menos elevado.
Quiçá isto explique a possibilidade, ofertada pelas canções do autor, de
mantermos com elas relações fruitivas diferenciadas. Aplicando à música
velosiana as palavras de Umberto Eco sobre a literatura, diríamos:
A diferença
de nível entre os vários produtos não constitui a priori uma diferença
de valor, mas uma diferença da relação fruitiva, na qual cada um de nós
alternadamente se coloca. Em outros termos: entre o consumidor da poesia
de Pound e o consumidor de um romance policial, de direito, não existe diferença
de classe ou de nível intelectual. Cada um de nós pode ser um e outro, em
diferentes momentos de um mesmo dia [...]. [13]
Também pautado na pluralidade, Veloso perpassa o conceito de país híbrido.
A exposição do Brasil, substituída pela exibição de Brasis, traz ao palco
o multicultural, a multiidentidade e a multitemporalidade. As músicas de
Veloso revelam a tendência do mesmo de promover uma descontinuidade conceitual
entre um CD e outro, uma música e outra. Trata-se de uma opção construtiva,
cujo produto final parece ser a confusão entre os domínios do popular e
do erudito, a mistura de ritmos, temáticas e atitudes diversas. Na incursão
cultural, Tropicália, 1968, menciona a carta de Pero Vaz
de Caminha, caracterizada pelo tom entusiasmado frente à terra recém descoberta,
ao mesmo tempo em que alude a uma criança “sorridente feia e morta”, em
verso cuja lembrança da miséria e da desigualdade social tocam a literatura
de trinta. Lua de São Jorge, 1968, aludindo
à denominada cultura popular, lembra o santo como morador da lua. Com
que roupa, 1987, capta o ritmo do pagode e várias das músicas do cantor
realizam contínuas referências ao candomblé e às tradições baianas.
A posição ressaltada pelas músicas de Caetano
segue a mesma concepção que encaminhou Canclini a definir a América Latina
como híbrida. Para o estudioso mexicano, na América Latina, as tradições
ainda não se foram e a modernidade não se estabilizou, fatores que tornam
dispensáveis o debate em torno da oposição moderno/tradicional e reivindicam
como essencial o estudo dos cruzamentos entre estes dois pólos. De acordo
com García Canclini, só tendo por base estes cruzamentos seria possível
entender os elementos característicos do presente. Para ele: “Assim como
não funciona a oposição abrupta entre o tradicional e o moderno, o culto,
o popular e o massivo não estão onde estamos habituados a encontrá-los.”
[14].
Num processo típico da antropofagia, a questão da brasilidade é retomada,
pois a modernidade inconclusa da América Latina facilita esta rediscussão.
Contudo,
O fundo étnico
valorizado pela antropofagia aparece, aqui, sob a forma de valores da sociedade
industrial, reduzidos a emblemas. As discussões sobre a originalidade da
cultura brasileira foram deslocadas pelo debate sobre a indústria cultural,
transferindo-se o enfoque dos aspectos étnicos para os político-econômicos.
[15]
A visão mantida em relação à identidade e, conseqüentemente, sobre o período
vivido, é a de que, com a modernização, o presente caracterizou-se por ser
“um depósito arqueológico de épocas e regiões” [16]. O Brasil, assim posto,
é multitemporal, um espaço no qual não há compartimentações, um local marcado
pela mescla de esferas culturais e históricas, uma concepção de Brasil destoante
do juízo de que “atingimos a modernidade da indústria cultural” [17], discordante
do “sentimento de superação do descompasso bem fundado nas aparências” [18]
e, cotidianamente, veiculado pela TV.
As canções de Veloso são exemplos típicos do produto cultural contemporâneo
no qual se “diminui o papel do culto e do popular tradicionais no conjunto
do mercado simbólico, mas não os suprime”. [19]. Assim, Veloso canta todos
estes elementos mesclados, como se vê em Tropicália que caminha da
grande festa brasileira: “Eu oriento o carnaval”, da mítica miscigenação:
“Os olhos verdes da mulata”, da exaltação de nossa natureza: “A cabeleira
esconde atrás da verde mata”, até a modernidade consumista de nossa sociedade:
“O monumento é bem moderno/ Não disse nada do modelo/ do meu terno”.
A cultura híbrida presente
no conteúdo das músicas também se apresenta no aspecto formal. “A excepcional
liberdade de invenção temática e filosófica” [20], a “multiplicidade de
estilos e pluritonalidade” [21], a inclusão de utopias, a combinação de
distintas artes e a tematização de questões da atualidade compõem a estética
fragmentária que o cantor desenvolve. Ao adotar o sincretismo que lhe consente
peregrinar entre o erudito, o popular e o massivo (se é que eles existem
isoladamente!), ele constrói uma linguagem particular e apropriada para
cada tempo, para cada assunto.
Desta maneira, a capacidade
de experimentar dos modernistas é homenageada tanto pela composição Língua
que, aos moldes de um manifesto declara: “Gosto do Pessoa na pessoa/ Da
rosa no Rosa / E sei que a poesia está para a prosa”, quanto em Outras
palavras, composição na qual ele cria e recria um vocabulário próprio,
doravante cantado e reconhecido pelo público: “Outras palavras/ Parafins
gatins aphaluz sexonhei la guerrapaz/ Ouraxé palávoras driz okê cris expacial”.
Semelhantemente, ao falar
da cultura de massa, se menciona: “Brigitte Bardot”, “Carmem Miranda”, “espinafre
biotônico”, “cowboys”, “bang-bang”, “super-heróis” e “coca-cola”, se faz
uso de ritmos consagrados pela mesma cultura, a tudo lega uma estruturação
particular. São os casos de Alegria, alegria; Tropicália e, principalmente,
de Superbacana.
Podres poderes também é ilustrativa
da capacidade velosiana de discutir assuntos emergentes da cultura e da
política em ajuste com a linguagem própria da época. Nela, a questão do
oprimido, ao invés de ser apresentada pela citação genérica de um povo sofredor,
é posta pela identificação de “bichas”, “negros”, “mulheres”, dentre outros,
ou seja, de acordo com as denominações, já utilizadas pelos grupos políticos
mais progressistas da década de oitenta, e oriundas dos
[...] novos
movimentos sociais que emergiram durante os anos sessenta (o grande marco da modernidade tardia), juntamente com as revoltas
estudantis, os movimentos juvenis contraculturais e antibilicistas, as lutas
pelos direitos civis, os movimentos revolucionários do “Terceiro Mundo”,
os movimentos pela paz. [22].
Como pudemos verificar, as composições
de Caetano Veloso mantêm pressupostos em relação à política, ao populismo
e à atuação popular. Em palavras do cantor, o que movia seu processo criativo,
no período focalizado neste trabalho:
Era a própria fé
nas forças populares - e o próprio respeito que os melhores sentiam pelos
homens do povo - o que aqui era descartado como arma política ou valor ético
em si. Essa hecatombe, eu estava preparado para enfrentá-la. Era dramaturgia
política distinta da usual redução de tudo a uma caricatura esquemática
da idéia de luta de classes. [23].
Sem ter como arma as típicas canções de protesto que exaltam a ligação entre
o popular e sua suposta força inata de revolução, as produções do músico
desconstroem a espetacularização, cada vez maior, em torno do assunto, indo
na contramão do populismo clássico, cuja afirmação “de que tudo o que o
povo faz tem sabedoria e aponta diretamente nas direções de seus interesses”
[24] falseia a realidade.
Podendo o populismo discursar sobre o povo, em si ele igualmente carrega
a espetacularização da política, realizada através da imagem do líder carismático
e da falsificação da participação popular: “uma mescla de participação e
simulacro” [25]. Quando Caetano pontua, em Alegria,
alegria, a política como “caras de presidentes”, ele esvazia o significado
da prática política popular (do povo caricaturado e dos líderes mascarados),
concomitantemente, supondo e condenando a cidadania reduzida ao discurso,
vazia em seu exercício. Adiante, sua condenação perdura, quando, em um mesmo
patamar de um mundo tragado pela mídia, estão as guerrilhas e o cotidiano
ou, também, quando os presidentes, a exemplo das divas do cinema, são apresentados
como meras imagens. As bombas, as guerrilhas e os presidentes, dentro do
dia-a-dia massivo, são como as “Cardinales bonitas”, os “grandes beijos
de amor” e “Brigitte Bardot”. Trata-se, mesmo, do esmaecimento da “linha
de demarcação que separa com rigor fatos de ficções”. [26]
Alegria, alegria denota a espetacularização do mundo moderno, isto
é, em palavras de Beatriz Sarlo, que “a sociedade vive em estado de televisão”
[27], em um mundo no qual tudo existe “na medida em que exista televisão”
[28] e é em tal universo: de bancas de revista, entre fotos, fatos e nomes,
entre programas televisivos, como descreve Alegria,
alegria, que se dá a política. Ela é um monumento perecível: “o monumento
é de papel crepom e prata”.
Discutindo a influência televisiva, é de se esperar que as canções de Caetano
Veloso sejam dotadas de visualidade. Em Trilhos urbanos, Trem das cores
e Alegria, alegria, o ouvinte/leitor tem a impressão
de acompanhar uma câmera que vasculha a realidade ao seu redor com tamanha
instantaneidade que as imagens ficam sobrepostas. A montagem, processo básico
da linguagem cinematográfica e da televisão, será presença certa nas produções
de Caetano, para quem a construção de um “painel exuberante e algo disforme”
[29] era indispensável, como declara em Superbacana,
de 1968: “Vou sonhando até explodir
colorido/ No sol dos cinco sentidos/ Nada no bolso ou nas mãos”.
Da afirmação acima para chegar a uma relação
com o fluxo televisivo basta um passo. A presença da desconexão de eventos
dispostos em seqüência e sem intervalos são características televisivas,
perceptíveis nas músicas velosianas, capazes de expor uma nova sensibilidade
temporal e uma nova forma de comunicação de imagens e sentimentos próximos
ao videoclipe, este, para Canclini (Néstor García Canclini. Culturas híbridas: estratégias para entrar
e sair da modernidade), a maior e melhor expressão da contemporaneidade,
composta pelo universo fragmentário de notícias, espetáculos e propagandas.
Para finalizar, gostaríamos de reafirmar que Caetano, sem preconceitos,
incorpora todos os objetos classificados pela sociedade: o fácil, o difícil;
o legítimo, o ilegítimo; o bom, o ruim, dando a eles modulagens particulares,
segundo sua linguagem e seus conceitos, fazendo com eles seu carnaval. O
compositor estabelece uma aproximação entre extremos, cujo escopo é equipará-los,
questionar a distinção responsável por sua existência ou pela existência
de rótulos desnecessários, impróprios. Caetano não é um, são vários e, em
todos eles, não é normativo, não é fundante.